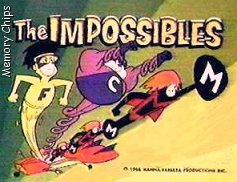Hans descendia de uma família rica, mas que havia empobrecido pouco antes de nascer. Morou então nos bairros mais pobres de Amsterdã. Sofreu com um pai alcoólatra e violento, até uns 25 anos de idade, quando este veio a falecer de cirrose. Na infância e adolescência, além de se envolver em muitas confusões e brigas, praticou alguns furtos e outros delitos. Frenqüentou academias de boxe e chegou a lutar profissionalmente algumas vezes. Mas só veio definitivamente a encontrar um rumo mais estável em sua vida ao entrar para o exército aos 19 anos.
A vida de militar favoreceu uma canalização mais sadia de toda aquela energia. Aprendeu com unhas e dentes o valor da auto-disciplina e da perseverança e, com muito esforço, entrou para a universidade, no curso de Filosofia; o qual cursou durante todo o período em que esteve no exército. Também foi aluno em algumas disciplinas de outros cursos ( Sociologia, Ciência Política e Psicologia), e assim foi formando uma visão bem crítica e entrando em choque com o posição militar que já ocupava: a de sargento.
Terminada a faculdade, não teve jeito, deixou a vida militar. Enquanto não conseguia emprego em sua área de formação universitária, foi ganhando a vida com o que aprendeu no exército: foi contratado para o o rigoroso serviço segurança da embaixada dos Estados Unidos na Holanda. Permaneceu ali durante três anos e foi demitido sob a alegação de algo parecido com subversão: foi flagrado lendo algum texto de índole marxista ou anarquista durante o plantão. Apesar de toda a sorte de decepções com os americanos, valeu a pena, pois saíra de lá falando fluentemente o inglês. Com o dinheiro de suas contas, foi correr a Europa. Ficou cerca de um ano viajando, e disse jamais ter se esquecido do que viu e conheceu no leste europeu. Durante alguns anos passou então a viver assim: trabalhava bastante durante um tempo, juntava um bom dinheiro, economizando tudo o que podia, dormindo pouco, morando e vestindo mal. Depois gastava-o todo em viagens, para os mais diversos locais possíveis. Foi assim que conheceu os cinco continentes.
Em sua viagem à América do Sul, conheceu uma brasileira e apaixonou-se. Como a santa deu conta do recado, não mais desgrudaram. Entre idas e vindas, em um relacionamento cheio de loucuras e absurdos, já estão juntos há dez anos.
Conheceram-se em uma parada de ônibus. Caminhando, a alguns metros da parada, já pôde perceber que ali havia duas garotas, as quais pareciam comentar sobre o sujeito grande e esquisito que se aproximava. Observaram-no e riram-se, discretamente para que o estranho não se desse conta do motivo. Hans não teve dúvidas, estavam acintosamente rindo dele.
“Por acaso, eu tenho cara de palhaço”, disse assim, do nada, com aquele sotaque carregado.
Riram-se mais ainda, mas agora tentando de todo modo conter-se, em um misto de situação hilária com pavor.
“Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, moço”, ainda rindo, mas assustadas.
O sujeito era bem esquisito. Vestia umas roupas meio orientais e trapeadas, sapatilhas de samurai e trejeitos de filme de kung-fu. Cabeludo e careca ao mesmo tempo, alto e forte.
Mas este desencontro inicial foi a ponte para se conhecerem.
Saíram juntos algumas vezes. E um dia Laura revelou que gostaria de experimentar haxixe. Hans conhecia tudo quanto era droga. Laura primeiro disse que seu sonho era fumar ópio. Mas como isso não existe no Brasil, disse que um haxixinho já estava de bom tamanho. Era a maior maconheira, mas ainda não tinha provado esta variante da cannabis.
Foram para casa Hans, pois Laura morava com a família. Enrolou um baseadinho bem firme, adicionando um pouquinho de haxixe. Tinha pouco e não iria desperdiçar com a primeira menina que aparecesse. Para quem nunca provou do haxixe já estava bom demais. E depois não suportaria ter de ficar segurando onda de mulher em pânico. Ainda mais naquele caso. Laura era muito dissimulada e gostava de ser fazer passar pelo que não era. Tentava demonstrar o tempo todo que era muito louca. Vivia para seduzir e dar o fora. Tinha prazer em ver os homens babando. Deixava o caminho totalmente aberto, e ao menor sinal de investida, se fazia de desentendida e humilhava o infeliz com “Você está me confundindo; não te dei esse tipo de liberdade; nunca senti nada por você; te vejo somente como um amigo”.
Mas a filha da puta gostava de provocar, de insinuar-se, de falar muita sacanagem, fazendo perguntas íntimas, demonstrando interesse, para depois cuspir na cara que você era um tarado idiota. Era provocação pura e deleitava-se em humilhar.
Hans percebeu seu jogo infantil e simplesmente transformava-se numa montanha de ironias, sustentando os mais diversos personagens e iludindo quem se achava muito esperta. Este jogo foi crescendo, juntamente com a excitação absurda que o acompanhava. Ela o tinha como um louco varrido, senão um psicopata, um perigo ambulante e sedutor. Ele a via como uma burguesinha mimada, metida a louca e intelectual: pura fachada a esconder-se por detrás de clichês das tribos de que fazia parte. Uma gostosa e atraente cretina. Além de gratuitamente competitiva.
Tudo isso mais esse último detalhe, a constante competição idiota que ela vivia a fomentar, deixavam-no profundamente irritado e desconfiado. Ela não era digna de confiança. Ali jamais abriria seu coração.
Enrolou um baseado bem firme, deu uma tragada profunda e suave.
“Sabe como se ensinam as pupilas?”
“Como?”, perguntou ela, como se tivesse entendido alguma coisa.
Hans levanta e apaga a luz. No escuro, toda pupila se inflama, se excita. E mestre Hans poderia agora começar sua aula de hoje.
A pupila começa a tossir. Hans sai do quarto e vai até a cozinha buscar um copo d’água. No escuro, tira toda a roupa e retorna completamente nu, com o copo d’água na mão.
A pupila bebe a água, percebe a nudez e dispara a dar gargalhadas.
“O que foi? Algum problema?”
“Não, nenhum”, rindo convulsivamente.
O mestre começa a rir também, em risadas diabólicas e que terminavam de repente em uma expressão de extrema gravidade.
“Por que você está rindo?”
“Ah, não sei. Você vai buscar um copo d’água e volta pelado e quer que eu faça o quê? Tenha paciência.”
“Pelado? Você está me vendo pelado? Esse haxixe é do bom.”
Laura sorria amarelo em sua boca e dentes tortos. Batom excessivo e rugas tristes. Seu rosto se desmanchava, sua máscara de cera se derretia e não sabia onde enfiar a aquela boca torta. Contemplava em silêncio e pânico um mundo insano do qual nunca fizera parte.
“Vem cá...”
Puxou Hans para perto de si, como se fosse abraçar um louco infeliz que precisava do colo de alguém que tinha juízo. Coitadinho, não sabe o que faz.
“Não. Tire sua roupa também”, se desvencilhando dela.
Ela insistiu e ele foi claro. As regras seriam outras. Morte aos seus clichês.
“Você se despiu, na sua vida, somente frente a duas ocasiões: banho e sexo. Hoje será diferente. Irá despir-se, totalmente, somente para conversar.”
Foi difícil, muito difícil. Mas Laura, por fim, ficou completamente nua.
Ficaram, frente a frente, somente conversando, sem tocar-se.
Hans começa a masturbar-se e a conversa continua, como se nada estivesse ocorrendo. Ela fingia que não estava vendo. Mestre em fingir e fugir.
“Não está percebendo nada de diferente?”
“Não...”, tinha gozo enorme em dissimular.
E, de repente, num átimo, caiu de boca. Sem dizer uma palavra se jogou sobre o pênis de Hans, chupando-o magistralmente. Tinha os lábios muito protuberantes, naturalmente indecentes, o que dava uma impressão de talento nato para a felação. Tinha também um corpo moreno, de pele macia e muito lisa. Marquinhas de biquíni. Tempo pra se cuidar não faltava. Era uma moça muito atraente e cortejada.
Hans estava agressivo, sádico. Ela despertava seu sadismo. Penetrava com força. E ela gemia de modo muito insólito, como bicho. Uivava, emitia grunhidos. Gemidos doentios, deformados, mas extremamente excitantes.
Penetrava forte e rápido, e parava de repente, no ar, e dizia, em tom bem agressivo:
“Sabe qual é o seu problema?”
Então penetrava mais rápido e mais forte. E parava novamente. Intercalando fortes estocadas com palavras fortes. Era para machucá-la.
“Seu problema...”, batendo bem forte, “é que você é... muito... competitiva...!”
E gozou, como quem matava alguém, como quem se vingava. Como se gozasse na cara do inimigo.
“É isso, minha hora já deu. O parque já fechou. Por hoje já era. Volte amanhã.”, ordenou, vestindo-se.
Levantou-se rápido, como quem tivesse acabado de cumprir um serviço. E Laura, completamente atônita, sentia-se violentada, perplexa com toda aquela agressividade.
Puta da vida, limpou-se com o edredom, cuspiu no chão, e retirou-se apressadamente com as roupas na mão. Foi para a casa e chorou durante a noite toda. Fora vilipendiada, agredida, sem o menor motivo. Estava arrasada e com muito ódio no coração. Como as pessoas podiam ser tão más?
Às quatro da manhã resolveu ligar:
“Você foi um monstro comigo. Estou arrasada. Você não tem noção do que fez.”
“Que bom. Agora posso dizer porque agi assim. Não confio em você. Conheço seu tipo, o prazer que sente em humilhar, em ter um mundo de homens atrás de você para somente desprezá-los e assim sentir-se mais amada, com mais valor nesse mercado sujo da vaidade em que se afogou o seu coração.”
“Nada justifica você ter agido como um monstro, como um maníaco. Seu monstro sujo. Eu odeio você!”
Trocaram mais e mais ofensas. Porém, agora a batalha era franca. E puderam falar tudo o que sentiam um para com o outro. Terminaram a conversa encontrando um acerto. De modo suficiente, resolveram-se. Ele, contudo, continuava vendo-a como uma completa idiota.
Dias depois, cruzaram-se na rua, rapidamente. Ela estava maravilhosa. Seu sorriso era lindo, sereno e sincero. Hans engolia seco. Seu coração quase saiu pela boca.